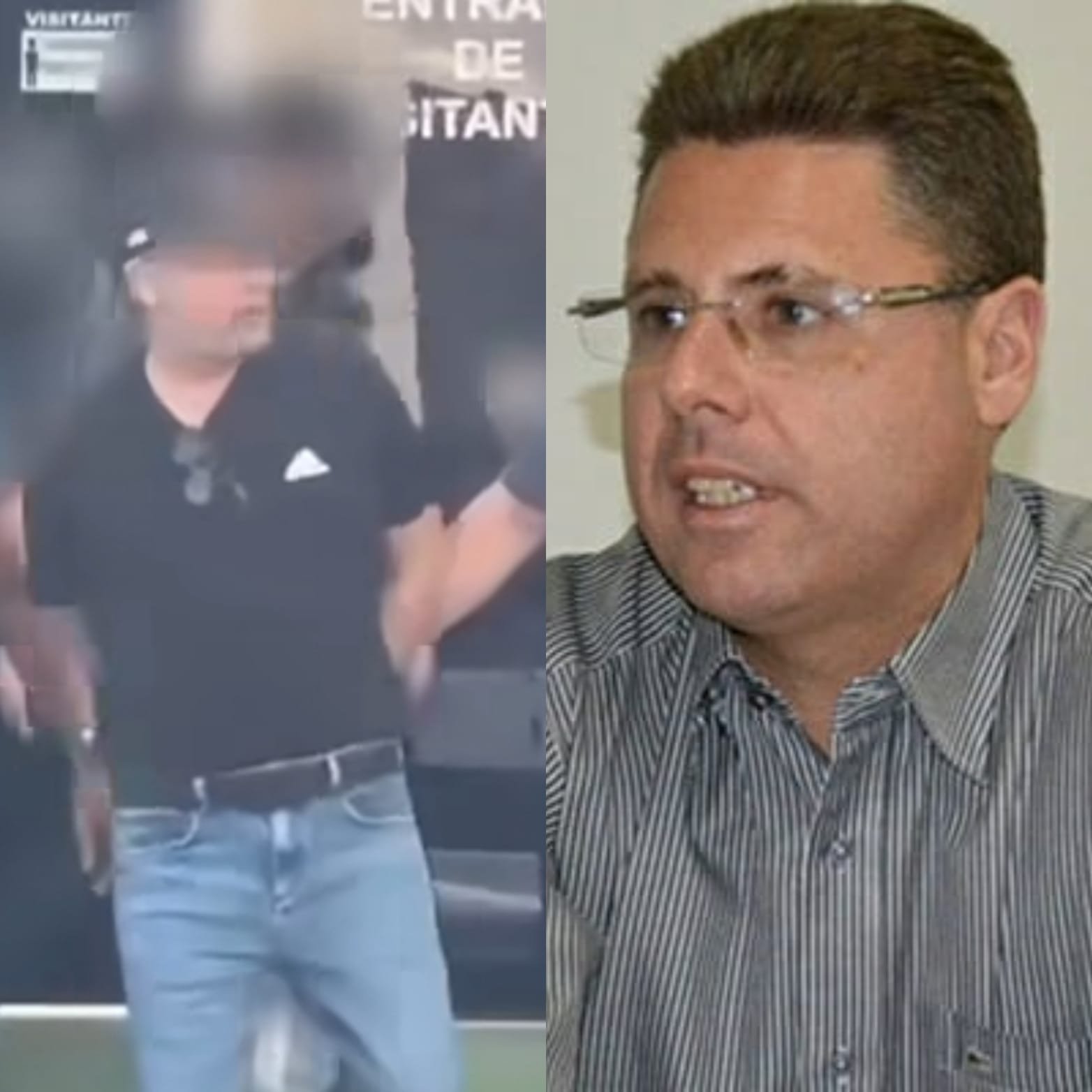Diáspora científica: estudo inédito revela perfil e sentimentos dos cientistas que deixaram o Brasil
Por Ana Maria Nunes Gimenez e
No término de julho pretérito, o CNPQ anunciou a início do processo de seleção para o Programa de Repatriação de Talentos – Conhecimento Brasil. O edital escolherá até milénio projetos de pesquisadores que atuam no exterior e desejam voltar ao país. Ele prevê uma bolsa mensal com um valor superior às bolsas oferecidas para a Pós-Graduação, verbas para pesquisa, viagens e outros benefícios, uma vez que recursos para contratação de projecto de saúde para a família e previdência.
Os debates recentes nesse campo, no entanto, levantam questões importantes para pensar o tema da mobilidade internacional no mundo contemporâneo. Estudos mostram que a mobilidade é segmento relevante do funcionamento da ciência atualmente e que a limitação da circulação pode ser danosa para o sistema científico. Neste cenário, uma das principais perguntas que devemos fazer é: quem são os pesquisadores brasileiros que atuam fora do Brasil?
Um levantamento inédito, realizado pelo projeto “Taxa da Diáspora Científica Brasileira”, financiado pela Instalação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), e coordenado pelo Laboratório de Estudos da Organização da Pesquisa e da Inovação (Geopi) da Unicamp, procura responder essa pergunta.
Por meio de um questionário, o projeto coletou informações de 1.200 pesquisadores brasileiros espalhados em 42 países. As respostas provocam reflexões sobre o perfil acadêmico e pessoal de quem está fora do país, os motivos que levaram à decisão de transpor e o proporção de interesse em retornar. Estes insumos devem ser considerados na elaboração de políticas tal qual objetivo é impulsionar a ciência brasileira. E é importante evidenciar que não há dados oficiais sobre o número totalidade de cientistas que deixaram o país.
Em termos de gênero, a modelo é balanceada, com quase paridade entre homens e mulheres. A média de idade é 37 anos, sendo a maioria (72%) branca. Ao todo, 67% dos respondentes disseram estar trabalhando, 31% estudando e 10% estudando e trabalhando. Unicamente 2% disse não estar nem estudando, nem trabalhando, no momento de emprego do questionário. Unicamente 12% dos respondentes estavam desempregados quando saíram do Brasil.
Um oferecido labareda atenção: a maioria dos respondentes doutorandos e pós-doutorandos disse ter deixado o país depois 2019. Quando perguntados por quanto tempo planejavam permanecer fora do Brasil, mais de 70% do totalidade de respondentes disse não ter previsão de retorno, número que chega a mais de 90% entre os que ocupam a posição de professor ou pesquisador com contrato permanente.
As principais razões para deixar o Brasil são ligeiramente diferentes entre os grupos, mas as quatro principais foram:
- Oferta de trabalho ou pós-doutorado no exterior;
- Melhores condições de financiamento para pesquisa e outras atividades acadêmicas;
- Bolsa oferecida pelo país de direcção;
- Situação política no Brasil.
Há vários outros pontos no levantamento, uma vez que a formação dos respondentes (se fizeram segmento de sua formação acadêmica dentro ou fora do Brasil) e o detalhamento da posição por eles ocupadas no mercado de trabalho. Sobre esse tópico, cabe ressaltar que a justiça de gênero diminui à medida que se avança na curso: cargos de docentes e pesquisadores com contrato permanente são majoritariamente ocupados por homens. Mas, por fim, por que é importante saber esse perfil de forma detalhada?
Trocar a fuga pela circulação de cérebros
Em primeiro lugar, é importante nos situarmos no debate atual sobre diásporas científicas. O termo diáspora foi inicialmente utilizado para tratar de populações afastadas de suas terras ancestrais em função de perseguições políticas, religiosas ou étnico-raciais. Com o tempo, o termo passou a englobar também as migrações voluntárias, muito uma vez que de profissionais altamente qualificados – as chamadas “diásporas científicas”, “diásporas do conhecimento” ou “diásporas intelectuais”, cujas discussões se tornaram crescentes a partir dos anos 1960.
O termo “fuga de cérebros”, ou brain drain, por sua vez, foi utilizado no final dos anos 1950, pela British Royal Society para se referir à saída massiva de cientistas e tecnólogos do Reino Unificado em direção aos Estados Unidos, considerada uma perda permanente para o país.
Finalmente, a partir dos 1990 emerge uma novidade postura frente à transmigração de pessoas altamente qualificadas com a teoria de “circulação de cérebros” (em inglês, brain circulation). Essa mudança é relevante, já que a transmigração deixa de ser considerada uma perda permanente para o país, desde que sejam estabelecidas estratégias de engajamento com os membros da diáspora, que vão além de seu retorno físico ao país de origem.
Ao indagar os dados dos pesquisadores entrevistados no exterior, é verosímil constatar que muitos não querem voltar ao país. A teoria de repatriação já não precisa ser compreendida uma vez que uma opção única. Ela é relevante para aqueles que querem retornar ao país e não o fazem por falta de oportunidade (apontada por 50% dos professores e pesquisadores com contrato temporário, 44% dos doutorandos e 40% dos pós-doutorandos). Mas não será capaz de resolver a totalidade da questão.
O retorno físico já não é encarado uma vez que a única solução verosímil. Em muitos casos, é mais relevante fomentar e facilitar relacionamentos, mesmo à intervalo. Diáspora com potente tino de pertencimento e interesse em contribuir para o desenvolvimento de sua terreno natal pode ser transformada em um ator importante desse processo. As tecnologias digitais criaram novos caminhos e oportunidades para que se possa pensar em parcerias de longo prazo. O Projeto Pesquisa da Pesquisa, também coordenado pelo Geopi, tem aprofundado as investigações sobre o impacto e a trajetória desses pesquisadores na ciência brasileira.
A valorização dos membros da diáspora não deve suceder em detrimento daqueles que já atuam no país, enfrentando escassez de recursos para a ciência, ou mesmo falta de oportunidades. É preciso pensar formas de interações que possam fortalecer nosso sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, sem gerar ainda mais desigualdades, considerando que o mercado de trabalho vernáculo não tem absorvido os doutores formados a cada ano. Não são essas, em muitos casos, as principais razões que motivam a saída do país?
O engajamento não pode ser visto com um término em si: ele deve suceder a partir do conhecimento da diáspora, suas capacidades, necessidades e recursos, mas também do conhecimento dos recursos e capacidades que se encontram no território vernáculo. Isso inclui a melhoria das capacidades das instituições domésticas, da capacidade de mobilização do país e da construção de crédito mútua. Por término, é fundamental reconhecer que não há uma única diáspora científica brasileira, mas sim múltiplas diásporas, com diferentes perfis e interesses.